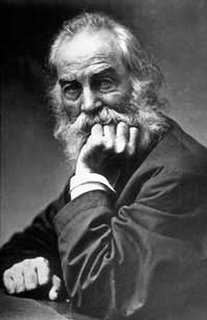Fernando Pessoa
A razão poética
Há 71 anos morria, em Lisboa, Fernando Pessoa, cuja obra, por sua complexidade e beleza, deu novo sentido e novo peso à literatura de língua portuguesa. Falar desse poeta e dessa obra equivale a mergulhar num atordoante labirinto de espelhos. O que é previsível, quando se lê o que ele mesmo disse em carta a João Gaspar Simões: "O estudo a meu respeito, que peca só por se basear, como verdadeiros, em dados que são falsos por eu, artisticamente, não saber senão mentir". Pode-se entender esse reparo como uma advertência, pertinente, aos críticos que costumam explicar a obra dos escritores por sua biografia. De fato, se em todo autor obra e vida de algum modo se entrelaçam ou se ligam, deve a crítica ter em conta que se trata de realidades diferentes, de linguagens diversas, que não se traduzem uma na outra. Sendo assim, o mesmo fato não terá igual significação na vida como na obra, ou seja, devemos ler a obra como obra e a vida como vida. Sem confundi-las.
No caso de Fernando Pessoa, porém, a dificuldade está na leitura da obra de um autor cuja vida parece se resumir à própria obra e que, ao mesmo tempo, põe em dúvida a cada momento a sua existência como gente e como autor da obra. Mas tampouco o faz de modo definido ou definitivo.
Assim abre diante de nós um labirinto de dúvidas e simulações:
"Se alguma vez sou coerente -diz ele-, é apenas como incoerência saída da incoerência"; ou então: "A origem mental dos meus heterônimos está na minha tendência orgânica para a despersonalização e para a simulação". Noutra ocasião afirma:
"Eu sou a sensação minha. Portanto, nem da minha própria existência estou certo".
Se nos detemos a analisar essa última frase, verificamos que ela é carente de lógica: se eu sou uma sensação minha, não posso ter dúvida quanto a minha existência, já que, para haver sensações, é necessário que haja alguém que as tenha. Trata-se, portanto, de um paradoxo. Mas a nossa lógica de pouco ou nada vale para contestar ou definir a alguém que, como Pessoa, nos responde: "O paradoxo não é meu. Sou eu".
E é verdade. Ou deve ser... talvez. Fernando Pessoa parece ter tido, desde sempre, enorme dificuldade em manter-se coerente.
Ele confessa: "Todos os meus escritos ficaram inacabados: sempre novos pensamentos se interpunham, associações de idéias extraordinárias e inexcludíveis, de término infinito". Há nele uma espécie de horror ao definido e ao definitivo: "Não posso evitar o ódio que têm meus pensamentos de ir até o fim: a respeito de uma simples coisa, surgem dez mil pensamentos e milhares de interassociações com esses dez mil pensamentos, e careço de vontade de eliminá-los ou detê-los, nem tampouco de reuni-los num pensamento central, onde os seus pormenores sem importância, mas associados, podem se perder. Introduzem-se em mim: não são pensamentos meus, mas pensamentos que passam através de mim. Não pondero, sonho; não me sinto inspirado, deliro".
A coerência impossível.
Pode-se deduzir dessa confissão que a impossibilidade de se manter coerente decorre, em Fernando Pessoa, de um lado de sua inteligência extraordinariamente rica e sensível e, de outro, de uma fraqueza ou indecisão fundamental que o impede de eleger a linha mestra do raciocínio e expurgar tudo o que, por mais interessante ou brilhante que seja, não pertença a ela.
Outra hipótese seria a de que ele subestima a coerência lógica em favor do efeito emocional das idéias e porque encontra na própria incoerência uma expressão emocional ou um perverso prazer intelectual. Não se pode esquecer que, entre as múltiplas faces da personalidade de Pessoa, há sem dúvida a de um certo esnobismo intelectual, o esforço para fugir do comum. Ele o diz pela boca de Bernardo Soares, o "autor" do Livro do Desassossego: "Repudiei sempre que me compreendessem. Ser compreendido é prostituir-me. Prefiro ser tomado a sério como o que não sou". Se se alega -como poderia fazê-lo o próprio Pessoa- que o que diz Soares, diz Soares, e não ele, Pessoa, podemos também lembrar-lhe outra de suas afirmações: "Só disfarçado é que sou eu". Definir Pessoa é como tentar fixar as imagens de um caleidoscópio em movimento.
Não obstante, nunca se pode descartar, no entendimento desse fenômeno -que se confunde com uma espécie de dispersão da personalidade-, causas verdadeiras, existenciais e até psíquicas, especialmente quando atentamos para afirmações como esta: "O caráter de minha mente é tal que odeio os começos e os fins das coisas, porque são pontos definidos. Aflige-me a idéia de que se descubra uma solução para os mais altos e mais nobres problemas de ciência e filosofia; horroriza-me a idéia de que uma coisa qualquer possa ser determinada por Deus ou pelo mundo.
Enlouquece-me a idéia de que as coisas mais momentosas possam realizar-se, de que os homens pudessem todos ser felizes um dia, de que se encontrasse uma solução para os males da sociedade".
E, após dizê-lo, adverte: "Contudo, não sou mau nem cruel; sou louco e isso dum modo difícil de conceber".
Não nos cabe aqui fazer o diagnóstico médico de Fernando Pessoa. Ele, sim, tenta fazê-lo numa carta a dois psiquiatras franceses, datada de 10 de junho de 1917, em que afirma: "Do ponto de vista psiquiátrico, sou um hístero-neurastênico, mas felizmente minha neuropsicose é bastante fraca". E aduz logo adiante: "Exceto nas coisas intelectuais, onde cheguei a conclusões que tenho como firmes, mudo de opinião dez vezes por dia; só tenho juízo assentado a respeito de coisas em que não haja possibilidade de emoção". E isso porque, segundo ele mesmo admite, "a emotividade excessiva perturba a vontade; a cerebralidade excessiva -a inteligência por demais apaixonada pela análise e pelo raciocínio- esmaga e amesquinha essa vontade que a emoção acaba de perturbar", e acrescenta: "Quero sempre fazer, ao mesmo tempo, três ou quatro coisas diferentes; mas no fundo não só não faço, mas não quero mesmo fazer nenhuma delas. A acção pesa sobre mim como uma danação: agir, para mim, é violentar-me".
Se Pessoa era ou não um "hístero-neurastênico", não importa aqui. No trecho citado, interessam-nos mais as referências à "cerebralidade excessiva -a inteligência por demais apaixonada pela análise e pelo raciocínio"- e à impossibilidade de agir. Esses dados podem explicar sua tendência a negar a realidade concreta do mundo objetivo, o estado de permanente desencanto diante da vida e da criação de personalidades fictícias nas quais projeta a vida que ele próprio não consegue viver.
Homossexualismo irrealizado
Mas há um outro dado a acrescentar a esse quebra-cabeças: o homossexualismo irrealizado de Fernando Pessoa. Mais uma vez recorremos a suas próprias palavras: "Não encontro dificuldade em definir-me: sou um temperamento feminino com uma inteligência masculina. A minha sensibilidade e os movimentos que dela procedem, e é nisso que consistem o temperamento e a sua expressão, são de mulher. As minhas faculdades de relação -a inteligência e a vontade, que é a inteligência do impulso- são de homem". Adiante ele diz: "Reconheço sem ilusão a natureza do fenômeno. É uma inversão sexual fruste. Pára no espírito". Mas vejamos o que se segue: "Sempre, porém, nos momentos de meditação sobre mim, me inquietou, não tive nunca a certeza, nem a tenho ainda, de que essa disposição do temperamento não pudesse um dia descer-me ao corpo. Não digo que praticasse então a sexualidade correspondente a esse impulso; mas bastava o desejo para me humilhar".
Esse texto deixa claro a drástica reprovação de Pessoa à prática do homossexualismo (que ele considera humilhante), assim como o temor de que, contra a sua vontade, esse impulso lhe descesse ao corpo e o submetesse. "Somos vários desta espécie, pela história abaixo'', afirma, referindo-se em seguida a Shakespeare e Rousseau, para sublimar seu receio "da descida ao corpo dessa inversão do espírito", "como nesses dois desceu". Seria descabido imaginar que, diante dessa ameaça, diante desse corpo que poderia a qualquer momento traí-lo, que Pessoa decidisse não viver, reduzir sua vida à vida da inteligência (sua parte masculina), e assim escapar à desgraçada possibilidade de tornar-se um homossexual? Não seria essa divisão interior -um homem e uma mulher na mesma pessoa- o início de sua despersonalização, da divisão do eu e ao mesmo tempo da invenção de outras personalidades, em lugar da sua própria, que lhe era, por pervertida, inaceitável? Por outro lado, a necessidade de ocultar esse impulso perverso não seria a primeira simulação que o levaria a tantas outras simulações?
Podemos responder sim ou não a essas hipóteses. Mas mesmo que respondamos sim, não esgotaríamos com isso o mistério da obra poética de Fernando Pessoa nem o enigma de sua personalidade, que dessa obra não se separa, porque, qualquer que seja a causa que determina o nascimento de seus poemas e a criação do seus heterônimos, a significação poética e o valor literário de sua obra pairam acima das explicações.
Não vamos, portanto, indagar agora pela origem de seus heterônimos, mas tentar compreender o que são eles. Num texto conhecido como ``Apresentação dos Heterônimos'' e que foi escrito como prefácio a uma projetada edição de suas obras, em 1930, possivelmente, Pessoa afirma: "O autor humano destes livros não conhece em si próprio personalidade nenhuma. Quando acaso sente uma personalidade emergir dentro de si, cedo vê que é um ente diferente do que ele é, embora parecido" (...) "Afirmar que esses homens todos diferentes, todos bem definidos, que lhe passaram pela alma incorporadamente, não existem -não pode fazê-lo o autor destes livros; porque não sabe o que é existir, nem qual, Hamlet ou Shakespeare, é que é mais real, ou real na verdade."
O poeta dramático
Essa alusão a Shakespeare não é fortuita, por várias razões, mas especialmente porque Pessoa se entende como um "poeta dramático" e seus heterônimos como equivalentes a personagens teatrais. É bastante conhecido o trecho de sua carta a João Gaspar Simões em que ele se define como tal: "O ponto central da minha personalidade como artista é que sou um poeta dramático; tenho, continuamente, em tudo quanto escrevo, a exaltação íntima do poeta e a despersonalização do dramaturgo. Vôo outro - eis tudo".
Em consequência disso, diz ele, "não há que buscar em qualquer deles (dos heterônimos) idéias ou sentimentos meus, pois que muitos deles exprimem idéias que não aceito, sentimentos que nunca tive. Há simplesmente que os ler como estão, que é aliás como se deve ler". Argumenta com o exemplo do poema oitavo do ``Guardador de Rebanhos'', "que escrevi com sobressalto e repugnância", afirma, ``pois que ali Caeiro usa de blasfêmia infantil e antiespiritualismo, quando nem uso de blasfêmia nem sou antiespiritualista". E acrescenta: "Alberto Caeiro, porém, como eu o concebi, é assim: assim tem pois ele que escrever, quer eu queira quer não, quer eu pense como ele ou não. Negar-me o direito de fazer isto seria o mesmo que negar a Shakespeare o direito de dar expressão à alma de lady Macbeth, com o fundamento de que ele, poeta, nem era mulher nem, que se saiba, hístero-epilético, ou de lhe atribuir uma tendência alucinatória e uma ambição que não recua perante o crime. Se assim é das personagens fictícias de um drama, é igualmente lícito das personagens fictícias sem drama, pois que é lícito, porque elas são fictícias e não porque estão num drama".
Acredito que, para melhor entendermos o fenômeno dos heterônimos, devemos examinar esta tese de Fernando Pessoa, na qual ele insiste repetidas vezes e a que confere indiscutível importância, a ponto de considerá-la a chave para o entendimento de toda a sua obra.
De meu ponto de vista, a explicação dos heterônimos -se eles são apenas pseudônimos de um único poeta que é Fernando Pessoa ou se são de fato poetas autônomos que ele criou do mesmo modo que um dramaturgo cria seus personagens- não alterará a avaliação qualitativa dos poemas a eles atribuídos, mas é impossível falar da obra poética de Pessoa, como um todo, ignorando a existência desses personagens-poeta.
A leitura, não apenas dos textos explicativos produzidos por ele, como dos poemas de Caeiro, Reis e Campos, deixa evidente a complexidade desse fenômeno e seu alcance profundo na personalidade literária e humana de Pessoa. Pode-se dizer mesmo que a sua obra poética tanto se constitui dos poemas todos que escreveu como igualmente desses personagens, que ele usa para ser outros ou que o usam para serem eles mesmos. Por isso, tentar entender que relação efetivamente existe entre Pessoa e seus heterônimos é tentar entendê-lo com criador literário.
Apesar da insistência de Pessoa em se definir como "poeta dramático" e afirmar que seus heterônimos equivalem a personagens teatrais, ponho em dúvida essa sua tese. Para justificar minha discordância, volto à celebre carta a João Gaspar Simões, já citada aqui. "Desde que o crítico fixe, porém, que sou essencialmente um poeta dramático, tem a chave da minha personalidade, no que pode interessá-lo a ele, ou a qualquer pessoa que não seja um psiquiatra, que, por hipótese, o crítico não tem que ser. Munido dessa chave, ele pode abrir lentamente todas as fechaduras da minha expressão. Sabe que, como poeta, sinto; que, como poeta dramático, sinto despegando-me de mim; que, como dramático (sem poeta), transmudo automaticamente o que sinto para uma expressão alheia ao que senti, construindo na emoção uma pessoa inexistente que a sentisse verdadeiramente e por isso sentisse, em derivação, outras emoções que eu, puramente eu, me esqueci de sentir", escreve Pessoa, tentando com isso mostrar o mecanismo de sua criação como poeta dramático. Sucede que, a meu juízo, esse não é o mecanismo da criação dramatúrgica.
Vaga biografia
O dramaturgo parte de personagem já existente (na vida real ou na sua imaginação) ou parte de uma situação dramática. Seu objetivo não é transferir sentimentos para expressões alheias ao que sentiu, mas expressar as emoções implícitas nas mais distintas situações da vida e dar existência aos protagonistas desses dramas. Macbeth não é resultado de um momento de despersonalização de Shakespeare e sim da capacidade do dramaturgo de viver integralmente o personagem, tanto em seu caráter como na situação dramática em que ele se encontra. A criação dramatúrgica não implica a substituição do autor pelo personagem, já que este é, de certa forma, uma expressão da personalidade do autor, afirmação dele como dramaturgo. Isso não significa, porém, que o personagem não possua traços próprios e não goze de uma autonomia relativa. Macbeth é, antes de mais nada, um homem numa situação dramática. Por isso, o que ele diz é o que só ele pode dizer e naquele momento; ele ou alguém que tivesse o mesmo caráter e se encontrasse na mesma situação. Sublinho este ponto porque reside aí a diferença fundamental entre um personagem dramático e qualquer dos heterônimos de Pessoa. Os heterônimos têm uma vaga biografia e, quando "falam" (escrevem), não o fazem como produto de uma situação determinada, como ocorre com Hamlet ou Macbeth ou Júlio César.
Tomemos o exemplo de Macbeth que, acreditando numa falsa profecia, dera vazão a sua sede de poder e a seus instintos sanguinários, traindo, assassinando, oprimindo. Quando, afinal, odiado por todos, cercado pelos inimigos, percebe que a profecia falhou e sente que o mundo desmorona sobre sua cabeça, tem uma explosão de revolta: "A vida é uma história contada com som e fúria por um idiota, e sem sentido algum". Essa frase terrivelmente negativa só poderia brotar na mente de um personagem furioso como Macbeth e posto na situação desesperadora em que se encontra no final de sua história. Não se trata de uma reflexão teórica e genérica, mas de uma manifestação contingente, por isso mesmo dramática.
Certamente, para que Macbeth seja assim e diga o que diz, é também necessário que o dramaturgo seja Shakespeare e não Molière ou Racine. Mas quem fala ali é Macbeth, não é Shakespeare. Porque Macbeth existe como personagem de uma história, existe numa história, e age e pensa em função das situações com que se defronta, sua existência é muito mais palpável, mais consistente, do que a dos heterônimos, e sua independência, com respeito ao seu criador, também muito maior.
De fato, como o que se conhece da vida de Macbeth ou de Hamlet são situações-limite, cuja alta intensidade dramática as imprime a fogo em nossa memória, nós os conhecemos melhor do que a Shakespeare, de quem temos vagas referências biográficas.
Noutras palavras, o conhecimento que temos de Shakespeare não é dramático, é prosaico, biográfico, como o conhecimento que temos de Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. E desse modo os papéis se invertem: Fernando Pessoa está mais vivo em nossa mente que seus heterônimos, porque dele, sim, temos um conhecimento dramático. Ele -e não Caeiro, Reis ou Álvaro de Campos- é que é o personagem com história e drama. Ele é que, aos cinco anos perde o pai, seis meses depois perde o irmão e, em menos de dois anos, ganha um padastro; ele é que vê morrer a avó, louca, e teme ele próprio enlouquecer; ele é que, desde cedo, percebe que não consegue viver; ele é que se sente como inexistente, como uma passividade que quase nada pode, a não ser se multiplicar em personagens fictícios; ele é que, homossexual que não se aceita, desiste de qualquer vida sexual; ele é que conhece a solidão e o vazio; ele é que conhece "a amargura essencial desta vida estranha à vida humana -vida em que nada se passa, salvo na consciência dela" e que, por isso, inveja o homem comum, normal, "que sente cansaço em vez de tédio e que sofre em vez de supor que sofre". Pode-se questionar se Fernando Pessoa era um poeta dramático, como ele se definiu, mas um personagem dramático, isso ele o foi seguramente.
A matéria poética
Por aí se vê que um personagem não precisa ser fictício para ser dramático, nem é essa condição que lhe empresta dramaticidade. Tampouco necessita, o personagem fictício, fazer parte de uma peça teatral. Alfred Prufrock, do célebre poema da Eliot, é um personagem dramático, como observa Edmund Wilson, porque nos é apresentado em situação dramática. Não é um heterônimo, nada se sabe dele além do que se deduz da própria leitura do poema, que é a expressão mesma de sua dramaticidade, um homem que envelhece solitário e que nunca ousou nada na vida, além de suas tímidas e frustradas fantasias.
Vê-se portanto que a relação de um dramaturgo com seus personagens não é igual à de Fernando Pessoa com seus heterônimos, mesmo porque estes não são a rigor personagens dramáticos. Isso não significa, porém, que não haja diferença entre Pessoa e os heterônimos, que eles não existam enquanto personalidades fictícias por ele criadas ou sejam fruto de mero capricho do poeta.
Não, os heterônimos são expressão necessária da personalidade de Fernando Pessoa, talvez que inicialmente como consequência de uma tendência à mistificação ou à simulação, conforme ele mesmo admite, mas que mais tarde tornaram-se parte essencial de seu universo intelectual, de sua elaboração da matéria poética. A novidade que é a criação dos heterônimos -fenômeno único na história da literatura-, longe de resultar de uma originalidade buscada, nasce das características especiais da personalidade de Fernando Pessoa e mesmo do que se poderia designar como suas deficiências.
É por não ter nunca certeza de nada, é por desconfiar da existência do mundo material à sua volta, por não distinguir firmemente as fronteiras entre o percebido e o pensado, por lhe parecer tão real -ou irreal- o que pensa quanto o que percebe sensorialmente, enfim, por não se saber quem é nem quantos é nem mesmo se é, por tudo isso ele se projetou nesses personagens fictícios, que usam de sua mente e de seu corpo para existir ou, pelo menos, para pensar e escrever. Mas se pode dizer também que é ele que os usa para assim assumir de modo efetivo as diferentes possibilidades de entendimento e indagação da existência que se oferecem à sua vertiginosa e comovida lucidez. Pode-se ainda encarar esses heterônimos com uma busca de alternativa para a visão desencantada e sofrida que se apreende nos versos de Fernando Pessoa-ele-mesmo:
- ``Com que ânsia tão raiva
- Quero aquele outrora!
- E eu era feliz? Não sei:
- Fui-o outrora agora'' ou
- ``Sol frio dos dias vãos
- Cheios de lida e de calma,
- Aquece ao menos as mãos
- De quem não entras na alma!''
- ou
- ``Ditosos a quem acena
- Um lenço de despedida!
- São felizes: têm pena...
- Eu sofro sem pena a vida''.
Esse sofrimento vazio, que não decorre das relações afetivas, das paixões e das perdas reais, esse sofrimento que dói mais por parecer fingimento que por parecer real, talvez encontre um consolo quando Pessoa se torna Alberto Caeiro e, na pele dele, vive uma vida menos doída. Como Caeiro, Pessoa aceita a realidade do mundo e se conforma com vê-la, sem se atormentar de indagações:
- ``Creio no mundo como um malmequer
- Porque o vejo. Mas não penso nele
- Porque pensar é não compreender...
- O mundo não se fez para pensarmos nele
- (Pensar é estar doente dos olhos)
- Mas para olharmos para ele e
- estarmos de acordo
- Eu não tenho filosofia: tenho sentidos...
- Se falo na Natureza não é porque
- saiba o que ela é,
- Mas porque a amo, e amo-a por isso,
- Porque quem ama não sabe o que ama
- Nem sabe por que ama, nem o que é amar...''
Alberto Caeiro é, assim, a manifestação de uma opção filosófica implícita na negatividade da visão de Fernando Pessoa: a descrença na possibilidade de, pela razão, compreender-se o mundo. Mas, em lugar de tal verificação conduzir ao desencanto ou ao desespero, conduz, em Caeiro, à aceitação tácita da realidade. O mundo existe, está aí, basta senti-lo, uma vez que "há metafísica bastante em não pensar em nada", e mesmo porque não há o que indagar, já que :
Se Caeiro é a aceitação da vida sem pensar, Ricardo Reis é talvez a aceitação apesar do pensar. Para Caeiro, existir é um fato maravilhoso por si mesmo, e o mundo, que dispensa explicações, não terá tido nem começo nem terá fim, ou pelo menos não importa sabê-lo. Já Ricardo Reis sabe: sabe que o tempo passa e a vida é breve. Mas isso não o perturba:
- "Mestre, são plácidas
- Todas as horas
- Que nós perdemos,
- Se no perdê-las,
- Qual numa jarra,
- Nós pomos flores".
Mas os heterônimos, se são alternativas filosóficas, são também alternativas estilísticas, aliás, como coerente decorrência da visão de mundo que cada um deles esposa. Ricardo Reis -que intensificou e tornou "artisticamente ortodoxo o paganismo descoberto por Alberto Caeiro"- escreve com o distanciamento e a objetividade de um clássico, sendo ao mesmo tempo moderno na exploração consciente da linguagem como matéria semântica e sensorial:
- "O rastro que das ervas moles
- Ergue o pé findo, o eco que oco coa,
- A sombra que se adumbra,
- O branco que a nau larga -
- Nem maior nem melhor deixa a alma às almas,
- O ido aos indos. A lembrança esquece.
- Mortos ainda morremos.
- Lídia, somos só nossos".
Já Álvaro de Campos não tem nem a tranquilidade saudável de Caeiro nem a indiferença olímpica de Reis: ele é sôfrego, ávido e passional. O que mais pesa nele é a sensorialidade, mesmo a sensualidade, o corpo. Se não se ilude quanto à inutilidade de tudo, tampouco se nega à força da realidade que lhe faz vibrar os nervos:
- "E há uma sinfonia de sensações incompatíveis e análogas.
- Há uma orquestração no meu sangue de balbúrdia de crimes.
- De estrépitos espasmados de orgias de sangue nos mares.
- Furibundamente, como um vendaval de calor pelo espírito
- Nuvem de poeira quente anuviando a minha lucidez
- E fazendo-me ver e sonhar isto tudo só com a pele e as veias!".
Como Pessoa, ele não tolera as verdades definitivas:
- "A razão de haver ser, de haver seres, de haver tudo,
- Deve trazer uma loucura maior que os espaços
- Entre as almas e entre as estrelas!
- Não, não, a verdade não!''.
- E nada de conclusões:
- ``A única conclusão é morrer".
E por ser tão preso aos sentidos, ao corpo, é natural que nele se manifeste o lado feminino de Pessoa, que Pessoa, por temor, reprime:
- "Os braços de todos os atletas apertaram-me subitamente feminino,
- E eu só de pensar nisso desmaiei entre músculos supostos
- Foram dados na minha boca os beijos de todos os encontros,
- Acenaram no meu coração os lenços de todas as despedidas
- Todos os chamamentos obscenos de gestos e olhares
- Batem em cheio em todo o corpo com sede nos centros sexuais.
- Fui todos os ascetas, todos os postos-de-parte, todos os como que esquecidos,
- E todos os pederastas - absolutamente todos (sem faltar nenhum)
- Rendez-vous a vermelho e negro no fundo-inferno da minha alma!
- (Freddie, eu chamava-te Baby, porque tu eras louro, branco e eu amava-te,
- Quantas imperatrizes por reinar e princesas destronadas tu foste para mim!)''.
Esse dado talvez faça de Álvaro de Campos um heterônimo mais perto de Pessoa que os outros, mais perto da pessoa de Pessoa. Mesmo porque, como o cidadão Fernando Pessoa - ao contrário de Caeiro e Ricardo Reis-, Álvaro de Campos é citadino, urbano, metropolitano, contemporâneo das usinas e da luz elétrica:
- "A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica
- Tenho febre escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto.
- Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos".
Por isso, estilisticamente, ele é "moderno", "futurista", entusiasmado com as novidades da civilização industrial, como um discípulo de Marinetti, que introduz na linguagem poética as palavras desse admirável mundo novo. Louva o cheiro fresco da tinta de tipografia, os cartazes colados há pouco, ainda molhados, os ``vients-de-paraître'' amarelos com uma cinta branca, a telegrafia sem fio, os túneis, o canal do Pananá, o canal de Suez... Álvaro de Campos guia automóvel e faz disso matéria de poema. Nem Caeiro nem Reis seriam capazes de semelhante proeza.
Voltemos à questão do relacionamento de Fernando Pessoa com seus heterônimos. Se esse relacionamento não é o mesmo que o dramaturgo mantém com seus personagens — e estou convencido de que não é —, o surgimento dos heterônimos não foi motivado pela necessidade (própria dos dramaturgos) de dar carne e realidade a personagens e situações. De fato, eles apareceram numa espécie de manifestação mediúnica, conforme conta o próprio poeta:
"Médium, assim, de mim mesmo todavia subsisto. Sou, porém, menos real que os outros, menos coeso (?), menos pessoal, eminentemente influenciável por eles todos. Sou também discípulo de Caeiro, e ainda me lembro do dia —l3 de março de 1914—, quando, tendo 'ouvido pela primeira vez' (isto é, tendo acabado de escrever, de um só hausto do espírito) grande número dos primeiros poemas do 'Guardador de Rebanhos', imediatamente escrevi, a fio, os seis poemas-intersecções que compõem a 'Chuva Oblíqua' ('Orpheu 2'), manifesto e lógico resultado da influência de Caeiro sobre o temperamento de Fernando Pessoa".
Mesma alma e mesmo corpo
Por não terem nascido de situações dramáticas, alheias à vida do autor ou tomadas objetivamente como tais, como a maioria das criações dramatúrgicas, os heterônimos não se desligam de Fernando Pessoa, já que é nele, e não em alguma peça teatral, que eles existem. Não é próprio da criação teatral esse coabitar dos personagens com o autor na mesma alma e no mesmo corpo, senão durante a concepção da peça. Escrita a peça, os personagens —esses fantasmas— abandonam o autor e se transferem para o texto escrito. O autor, por assim dizer, realiza desse modo um exorcismo: livra-se deles.
Os heterônimos, no entanto, jamais abandonam Pessoa, jamais se transferem para seus poemas que, por não serem peças teatrais, não os cabem, não têm neles suas situações de vida. Noutras palavras: os poemas são obras escritas pelos heterônimos e não o lugar em que transcorre sua vida. Eles não habitam os poemas, porque ninguém habita poemas. Eles habitam Fernando Pessoa. Convivem com eles, discutem com ele, misturam sua voz à dele, o influenciam. São portanto parte de Fernando Pessoa e compõem a sua personalidade contraditória e multiforme. Que Pessoa projeta e realiza neles tendências e qualidades pessoais está dito na carta de 13 de janeiro de 1935 a Adolfo Casais Monteiro. Pessoa escreve: "E contudo —penso-o com tristeza— pus no Caeiro todo o meu poder de despersonalização dramática, pus em Ricardo Reis toda a minha disciplina mental, pus em Álvaro de Campos toda a emoção que não dou nem a mim nem à vida".
Ocultismo e visão olímpica
Nada nos autoriza, porém, a afirmar que os heterônimos "são" Fernando Pessoa, uma vez que ele pensa diferente deles1 e, em certas questões, o contrário deles. Dou como exemplo a carta a Marinetti, datada de 1917, em que ele diz que os sentidos só buscam "a razão física, exterior, superficial e empírica", e não a razão metafísica, "que só se descobre pelo pensamento puro, numa pureza inteiramente emocional", Com essas afirmações, Pessoa nega de uma única assentada tanto a visão de Caeiro ("pensar é não compreender") como a de Álvaro de Campos, cujo sistema está "baseado inteiramente nas sensações".
A adesão de Pessoa ao ocultismo contradiz inteiramente a visão olímpica de Ricardo Reis, como também a de Álvaro de Campos —voltado para o dinamismo da vida moderna— e a de Caeiro, para quem "o único sentido íntimo das coisas/ é elas não terem sentido íntimo nenhum". Outras tantas divergências entre Pessoa e seus heterônimos estão nas suas respectivas estatisticas.
Diante dessas constatações cabe perguntar: se os heterônimos não são expressão de situações existenciais específicas, dramáticas; se, portanto, não expressam visões contingentes ou geradas por situações próprias a eles (como Macbeth ou Hamlet) e, ao mesmo tempo, não expressam a visão de Fernando Pessoa, então por que eles os criou? Para contradizer-se? Para, por intermédio deles, manifestar suas contradições sem ter que assumi-las ou negá-las? Se não é por nenhuma dessas hipóteses, talvez reste apenas uma: ele os criou por razões poéticas e não por razões filosóficas; por razões afetivas, emocionais, e não por razões lógicas. Criou-os para exercer as múltiplas virtualidades de seu talento, que mal cabia numa só pessoa. E, por isso, talvez, mais correto séria chamá-lo —desculpem o trocadilho irresistível— Fernando Pessoas.
Ferreira Gullar é poeta e ensaísta, autor de "Luta Corporal" e "Poema Sujo", entre outros.
Ensaio publicado em http://www.revista.agulha.nom.br/gular04.html
Fernando Pessoa nasceu a 13 de Junho de 1888 e morreu em 30 de Novembro de 1935.
___
___
edit: Agradecimento a Jorge P.G. pela correcção na data da morte de Fernando Pessoa