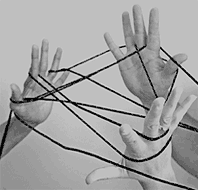Aquilino Ribeiro
A memória de um grande escritor português

Aquilino Ribeiro pelo pintor Abel Manta
A PELE DO BOMBO
Anos e anos a carretar leite, vila vai, vila vem, aborridos seus olhos de andar a rastos pela invariável fita do caminho, o cavalo do Cleto arriou. Era lento e preso da marcha, como se o arcabouço deprimido empreendesse fundir-se no repouso aliciador da terra. Tinham-lhe nascido alifates nos tendões e nas jogas, e com a gangrena das suas mataduras embebedavam-se as moscas de dez aldeias. À sobreposse, lá continuava a fazer a romaria cotidiana, saindo da loja com o cantar matutino dos galos, para volver quando os bois remoíam nos estábulos a erva dos pastos. Descansava então umas horas num sono quebrantado de pesadelos, em que havia guerras de cavalos e precipícios a atravessar com cargas descomunais.
Os próprios jericos maviosos eram mais lestos do que ele. E, de vê-lo assim ronceiro, o dono não parava de o espertar com a chibata ou tirar-lhe pela cadenilha bramando:
– Arre! Não deixarás as rezas para a loja, excomungado!?
Uma manhã, afinal, que os cântaros cheios pediam besta de fôlego, deu com a carga no chão. O Cleto, ao ver o leite vertido, saltou nele às arrochadas. Bateu, bateu até lhe doer o braço e lascar o pau. Mas o cavalo, por mais esforços que fizesse, soltando roncos e escabujando, não conseguiu firmar-se nos curvilhões. Puxou-o o Cleto pela cabeçada, pelo rabo, pelas orelhas: ele fincou os cascos, lavrou mais de uma vez o solo, e desfalecido, inerte, abateu para o lado, a dentuça em arreganho a filtrar uma baba sanguinolenta.
Patinhando na terra empapaçada de leite, decidiu- -se o Cleto a desaparelhá-lo. Ao barulho das latas, os pastores assomaram pelos barrocais, e gritou-lhes:
– Botai aqui a mão, rapazes!
Acudiram daqui, dalém, com a gaita no surrão e a cacheira no ar; e uns pela rabadilha, outros pela samarra, puseram o cavalo em pé. O Cleto animou-o, e reajustando o aparelho e tampando os potes, tangeu-o com brando jeito:
– Anda lá ... anda, alminha do Senhor!
Entesando-se, todas as energias crispadas no arranco, começou o cavalo a andar. Mas o seu passo era titubeante, aos torcilhões, tem-te-não-caias.
– Vai a ensaiar o sarambeque – disse um pastor.
– Não bota à vila! – sentenciou outro em tom de reprimenda ao gracioso.
O Cleto engalfinhou-lhe os dedos pelas clinas a ampará-lo. Mas breve as pernas lhe fraquejaram, sacudidas de tremor, e ajoelhando com brusquidão desabou para a banda, desamparado, como se o estatelasse um raio.
O Cleto sovou-o a pontapés, arrepelando-se e chamando-se um desinfeliz da sorte.
– Vá por besta, tio Cleto! – aconselhou um dos rapazes.
Tentou ainda pô-lo em pé, ora à força de catanada, ou com vozes de incitamento. Mas o animal nem buliu, de olhos esgazeados, perdidos num horizonte de bruma.
O Cleto deu-lhe um último trompaço na morca e, a praguejar, tirou-lhe a carga. E tornou esbaforido à aldeia em cata duma jumenta, deixando-o rodeado de cães que, língua desembainhada, lambiam o leite do chão.
Quando reapareceu com a azêmola, o cavalo estava sobre os joelhos, e mansamente roía os tojos do caminho. E, movido por um sentimento, não saberia dizer se de utilidade, se de dó, enxotou-o na direcção do povo à pedrada.
Trôpego e triste, espontando as urzes e os fetos novos, encaminhou-se o garrano para o estábulo, e essa noite dormiu-a a sono solto.
Manhã cedo, veio o Cleto e, sem dizer bus, tirou a albarda e potes do leite para a rua. De soslaio, o cavalo seguia-lhe a manobra, à espera dos pontapés, que eram, de costume, o leva-arriba. Mas, desta feita, o dono entrou e saiu sem lhe tocar.
Afeito à volubilidade dos homens, não lhe causou o facto estranheza. Sabia que era fado seu marchar, e amenidades da ilusão desaconselhava-lhas o velho instinto de malhadiço. E voluptuosamente foi-se deixando na cama, que nunca ela era tão doce como de manhãzinha, entre o sossego da noite a extinguir-se e horas ásperas de caminho a tropicar.
Estava nesta grata lasseira, ouviu lá fora um zurro.Ouviu-se retumbar uma, duas vezes, perfeitamente zurro jactancioso e optimista de jumento estupidarrão e bem tratado. E, depois duns segundos de casuística, vencido mais que tudo pela curiosidade, ergueu-se e foi espreitar. O Cleto aparelhava o asno que de véspera o revezara na jornada para a vila, enquanto Joana lhe ia chegando à boca, meiguiceiramente, uma a uma, molhadinhas de trevo.
– Grande paparreta! – considerou para consigo, roído de inveja ante o glutão, de olhinho gozoso, semicerrado, a retraçar o que lhe davam. Mas aquilo era um autêntico esbulho! Aquele trevo pertencia-lhe, pois não pertencia!? E, saindo fora resolutamente, pregou uma dentada na burra, e apresentou o focinho à mão liberal de Joana. Mas o Cleto descarregou-lhe de mão aberta duas cutiladas nas orelhas, e ele voltou para a loja triste e odiando.
Moinou à solta todo o santo dia, tosando as febras e giestas dos cômoros, no meio das boieirinhas que andavam ao cibato e não tinham medo dele. E à boca da noite recolheu à cavalariça contente e meio farto.
Uma vez ainda experimentou o Cleto deitar-lhe a cilha; metade por manha, metade por fraqueza, deitou-se ao chão, e nem a poder de castigo ou de afagos se convenceu a seguir jornada. O dono dali em diante passou a largá-lo todas as manhãs à gandaia, e ele, ainda que sob o despeito de tamanho desprezo, sentia-se conformado com a macaca. Livremente ia pastar pelos caminhos e ribanceiras das fontes, mas limitava-se a rondar em volta do povo, que lhe não consentiam os esparavões deitar mais longe. E ao bater das avemarias era certo na loja, folgado, regalado daservinhas e incensos de Nosso Senhor, menos dorida a pele sobre os ossos.
Uma tarde, os garotos correram-no à lapada e teve de dar uma carreira, botar além dos seus domínios, o que era uma violência para as suas pernas zambras e combalidas. Quando voltou ao povo, já as vacas badalejavam à manjedoira. A loja estava fechada e não se descobria vivalma. Depois de descrever umas voltas ao acaso, cismar no meio da rua, volveu à porta da estrebaria e ali quedou muito tempo, cabeça baixa, à espera. Afinal, como ninguém se mostrasse, soltou um relincho, primeiro, rápido e suplicante, a advertir, depois, espaçado e de queixa; por último, um nitrido prolongado e aflitivo que fez chorar na cocheira próxima a égua velha do Senhor Reitor.
Relinchou, relinchou e, como não lhe valessem, cheio de angústia e de raiva, desatou a escarvar a terra. Ninguém veio. Com a mão esgadanhou à porta, trabucou. Debalde. Já o seu próprio desespero desfalecia quando se apercebeu duns vultos que avançavam. Pelo andar e a estatura reconheceu, de salto, o filho do Cleto e, enristando as orelhas, em voz baixa e agradecida orneou. Mas o velhaco jogou-lhe um pau à cabeça, e foi dormir ao relento, longe dali, transido de pavor e desgostoso com os homens.
No dia seguinte, ao sol-pôr, avistou o dono que regressava da vila, escarrapanchado entre os potes e governava a asna pelo cabresto. E saiu-lhe ao encontro, ralado de queixas e de saudades que ele podia ler no desafogo que trasbordava dos seus olhos húmidos. O Cleto deitou-se abaixo, porventura com receio de algum desatino. E muito cordial coçou-o e bateu-lhepalmadinhas nas ancas, ao passo que murmurava palavras que não compreendia mas eram mais dolentes que o crepúsculo da tarde nas estradas desertas por longes terras. E, reconciliado com o leiteiro, foi até o desenfado de o choutar atrás da burrinha para casa. Nessa noite dormiu como um justo, satisfeito consigo e com o mundo.
Os tempos foram passando e, porta franca, sangue mais leve, pelagem a rebentar com o Estio, o lázaro começou a rejuvenescer na vida de vagabundo.
***
Com besta de empréstimo, o Cleto chegava uns dias com o leite azedo, outros tarde e às más horas.
Acabou por não haver alma que lhe dispensasse um sendeiro e o leite coalhou nas panelas. Na manhã seguinte, ainda havia estrelas, bateu-lhe à porta um sujeito, com horsa possante pela rédea, a pedir o rol.
Da soleira, estremunhado, o Cleto respingou:
– Que está para aí a alanzoar, homem?
– Já lhe disse: está despedido da fábrica. Passe para cá o rol...
O Cleto protestou; ia comprar o macho do defunto Isidro e o serviço ficava regularizado duma vez para sempre.
O outro não lhe deu ouvidos e partiu sem a relação a levantar o leite. Chegado ao largo da fonte, puxou do chifre e três vezes buzinou. As mulheres acudiram com as vasilhas à cabeça; e como o Cleto lhes fizera perder um dia, tinha fama de trapaceiro e era um farroupilha, os potes partiram para a vila atestados.
O Cleto, entrementes, deitou-se a falar com o dono da fábrica, o Sr. José da Loba, homenzinho gordanchudo e tatibitate, mas rico e de muita influência eleitoral. Sua senhoria mandou dizer que a resolução era inabalável e deu-lhe umas calças velhas e uma espórtula em dinheiro. Quando o Cleto contou os mal-empregados passos, Joana disse:
– Amanhã vou lá eu.
Arreou-se muito: saia de baeta justa na anca, chambre que era um jardim, chinelinha de verniz no pé, e limpa e escarolada foi.
– O Sr. José da Loba não está – responderam-lhe.
Esbracejando, forçou as portas até chegar ao senhoraço:
– Então a que vens, Joana ?
– Ainda mo pergunta? Quero o meu marido nos leites, ouviu?
– Mas como, rapariga, se ele não tem besta, traz tudo ao deus-dará? Os fornecedores desertam, estás a ver, descoroçoados os melhores. Raro o dia em que o leite não venha escasso ou se não estrague parte, umas vezes porque chega tarde, outras, eu sei, porque os produtores perderam o respeito e fazem tibornada. Não, assim não pode continuar!
– Já lhe disse. Se quer o serviço bem feito, empreste-lhe dinheiro para comprar uma cavalgadura. Não faz favor nenhum.
– Ora, tu és tola, por mais que me digam!... Mas ouve, mesmo que eu cedesse... ninguém mais lhe quer dar o leite...
– Cantigas! O que eles são é uma corja de invejosos. Empreste-lhe você dinheiro e verá.
– Não, já te disse que não, mulher! Escusas de te matar!
– Sim? Não o fará, mas diabos me levem se em voz alta não for dizer à Senhora D. Zezinha, a todo o mundo, que você é meu amigo.
Agarrando-a pelo braço, empurrou-a tranquilamente para a porta:
– Quem te pega? Vai, mulher, vai!
Soltou-se o pranto nos olhos de Joana:
– Quando me cometeu eram sete falinhas doces...
Em voz terna, acariciado da voluptuosidade das lágrimas, retorquiu:
– Olha, Joana, eu nunca deixarei de te socorrer; mas lá quanto a readmitir o teu homem, tó ruça! Tenho perdido um dinheirão por causa dele; nem tu imaginas!
O sangue tingia as faces de Joana, apagando-lhes as rugas de sete ninhadas de filhos. Além de que os seus olhos muito pretos eram sempre bonitos, com o choro veio-lhe uma expressão nova, quase de donzela, que esbraseou o Loba. Passando-lhe o braço em torno do pescoço, bichanou ao ouvido:
– Ouve, Joana, eu cá serei sempre o mesmo para ti. Mas é preciso que me correspondas… Tu serás sempre a mesma para mim?... Dize… O teu homem que vá dar o dia; tem bom corpo, trabalhe.
Em voz encatarroada, gemeu:
– Vamos morrer de fome.
– Doida... doidona... se soubesses o bem que te quero, não dizias disparates!
E, encostando a cabeça à dela, beijocou-a, deixou-lhe pela nuca, pelas têmporas, uma baba fátua de caracol:
– Joaninha, tu agora vais a casa da Borralha... hem?
Já lá vou ter.
– Não, hoje não.
– Hoje, sim!
– E admite o meu homem?
– Vai, lá falaremos!
Joana não perdeu cinco minutos à espera em casa da alcoveta.
O Loba chegou a soprar, olhinhos a arder, como sempre que ela descia da Serra, fresca, a cheirar à erva das altitudes, carnes enxutas, apetitosa do seu ventre de vaca lasciva.
Já tarde, o homem importante, limpando o suor, desdobrava uma nota de cinco mil réis no oleado do toalete. E à pressa, enjoado, despedia-se:
– Aqui tens; vai com Deus. Dize ao Anacleto que não o esqueço, mas lá quanto a voltar ao leite escusa de insistir. Adeuzinho!
Em cima do catre, Joana empurrava para dentro do colete de cordões os odres lassos dos seios. Logo que o Loba saiu, precipitou-se sobre o dinheiro e escondeu-o entre o couro e a camisa, contente de poder comprar a sua fornada de pão e talvez uma saia nova de chita.
Quando chegou à Serra, os gados em procissão entravam no povo. De alma simples e bonacheirona, o Cleto não se admirou ao dar-lhe a mulher conta do recado. Nem mesmo tomou o peso da liberalidade do ricaço, habituado a elas, e de moral amolecida. Quantoà despedida irrevogável, da fábrica, encolheu os ombros:
– Pois que dizia eu?!
* * *
Naquela manhã não lhe abriram a porta. Como tivesse fome, depois de relinchar, relinchar até lhe doer a goela, pôs-se a catar no estrume as paveias e a farfalha dos sargaços. O Cleto trabucava lá fora, e, sentindo-lhe o manejo, idas e vindas, estava indignado e cheio de ferocidade.
À tardinha, apareceu finalmente a meter-lhe a cabeçada, e muito submisso, pelo rabeiro, deixou-se conduzir atrás. Na rua, Joana deu-lhe uma côdea de pão e, a passo vagaroso, tomaram os três o caminho do outeiro, onde cresciam escarapetos e outras plantas bravias, e as pegas, pela tarde, se enxergavam em sua saraivada farândola. Havia lá cisternas de minas abandonadas, corcovas do desmonte por entre o urgueiral e, porque sempre se temera de lugares solitários, em sua estranheza perguntava:
– Que diabo vamos fazer para aqui?
Joana caminhava ao lado de Cleto, de mão a apanhar a saia, para que não roçasse a lama.
E ele lambeu-lha, balda velha que ganhara ao distingui-la da manápula bruta do Cleto. Desta feita a mão terna e blandiciosa, apenas trémula como nunca, acariciou-lhe a estrela corrida que muito admirava em si quando se dessedentava nos poceiros. E afagos assim morosos e tristes mais o fizeram desconfiar.
A chuva lavara o céu e nele os perfumes das giestas e da vela-luz pareciam andar boiando, não mais voláteis que nimbos brancos, matinais, à flor dum rio. E, trespassado da sensibilidade dos aromas, aspirou e arfou regaladamente, como nos atalhos quietos,quando as maias despejavam sobre ele cestadas de incenso.
Mas ao passo que ia atrás dos amos, inebriado, sorvendo o ar, ruminava a sua filosofia suspicaz de vagabundo.
Ao chegar a meio do cabeço, uma poldra passou a correr, veloz, narinas cheias de escuma e clinas ao vento. Corria como um raio, mal tocando a terra e roçando as urzes. E, na peugada, galopava o cavalo branco do moleiro, ridículo, com a carga na barriga, fumegando e arrifando. Homens, de cabeça ao léu e aos gritos corriam-lhes no encalço.
Naquele episódio fugitivo evocou o garrano a sua mocidade longínqua. E, apercebendo-se do desejo impetuoso dos cavalos e da arisca e arrebatada luxúria das éguas, num relincho disse ao grotesco e heróico potro do moleiro:
– Aí, aí, seu valente, a poldra está mortinha!
E, em voz rápida, o outro respondeu:
– Lá vamos, amigo, lá vamos!
Chegou ao cimo do teso, pensativo e melancólico. Contra uma laja o filho do Cleto amolava um facalhão. E o garrano, que estava ressentido com ele, arreganhou os dentes, ameaçador. O rapaz, com um safanão que se perdeu no ar, sacudiu-o.
O Cleto prendeu-o a um carvalhiço, depois do que lhe vendou os olhos com o lenço. E outra vez fez o seu reparo:
– Mas que endróminas são estas?!
De repente sentiu um beliscão desagradável no pescoço e uma queimadura, estreita como chicotada, que lhe apanhava a garupa de lés a lés e se perdia por debaixo da pele. E pouco a pouco começou a achar-se leve, leve como se um pé de vento fosse capaz de o rebalsar pelo espaço num galão vertiginoso. Ao mesmo tempo, por detrás do farrapo vermelho, os seus olhos pareciam ver com diversa claridade. Ali, lá em cima a poldra e o cavalo mordiam-se num abraço rabioso. Também fora pimpão e chibante e a dentada com que ferrava as éguas pelo cachaço tão raivosa era de cio que elas abanavam como um canavial. Desabava sobre elas com a rapidez do nebri, e recordou-se ... Uma vez rebentara a retranca para saltar na égua aluada dum passageiro que o provocava da argola da taberna com gemidos langorosos. Outra vez fugira para a serra mais a potra do mestre-ferrador e, com meio mundo atrás: – aqui vai o rasto! rincharam além! arreta! aqueibá! – quando os pilharam, ela, e ele, saciados, ripavam placidamentea ervinha duma fonte.
Na cernelha a torrente tépida lembrava um afago da mão de Joana, que nunca lhe fizera mal. E sentia-se bem, inundado dum gozo desconhecido, quando lhe faleceram as forças e baqueou. Uma vez em terra, através da venda ofereceu-se-lhe um horizonte imprevisto, mais diáfano e arroxeado que certas púrpuras do poente para os lados do mar. Tinha vontade de dormir. Oh, como o chão era macio! Qualquer coisa parecido com asa ou o primeiro arrebol do dia roçava-lhe a pelagem, suave, suavemente.
Joana ergueu-lhe o lenço dos olhos e por hábito novamente beijou a mão cujas meiguices vinham temperadas de tristeza. O ar, diante dele, era menos que um sopro que não basta para encher os bofes uma vez. Ao longe, para lá dos montes, avistou umcorpo afogueado que descia. E vagamente interrogou-se:
– Será o Sol?
Depois, lembrado da poldra e do garanhão que galopavam para as núpcias ferozes, considerou:
– É o amor dos cavalos.
No horizonte, a grande rosa caiu arrastando o ar todo. E às escuras se engolfou no escuro nada.
* * *
O Cleto puxou-lhe por uma perna e logo a seguir pespegou-lhe um pontapé no bandulho a título piedoso de sondagem. À Joana que chorincava disse:
– Chorar mas é por uma alma cristã, mulher!
Andava a cair de podre.
– Coitadinho, era um borrego de mansidade.
Fartou-se de andar connosco às cavaleiras e de nos ajudar a ganhar o pão!
O José Cleto meteu-lhe a faca ao tendão. E ela foi pensando nos bons tempos, que não tornam mais, quando, moça e bonita, requestada dos fidalgos, aparecia na vila montada para uma banda no seladoiro nédio do cavalo.
– Já nem os ciganos lhe pegavam, estava a dar o cadilho – proferiu o Cleto enquanto lhe esticava o pernil para o Zé esfolar. – Se o deitamos à margem passava o seu mau quarto de hora com os lobos. Tenho coração, foi melhor assim, De resto, a pele sempre rende uns patacos vendida aos samarreiros ...
– Já lhe disse! – obtemperou o filho. – A pele é para o bombo.
– Qual bombo ou qual diabo?!...
– Sim, senhor, para o bombo! De cabra rebentam com duas maçanetadas e este ano a rusga vai à Lapa e queremos-lhe zurrar.
Ao ver o ventre imundo do cavalo, esfaqueado por mão inexperiente, Joana foi-se dali cheia de nojo e anuviada.
***
.... "A Pele do Bombo" de Aquilino Ribeiro
***
Em memória do ilustre escritor, 43 anos após a sua morte.
Aquilino Ribeiro n. 13 Setembro de 1885 m. 27 de Maio de 1963